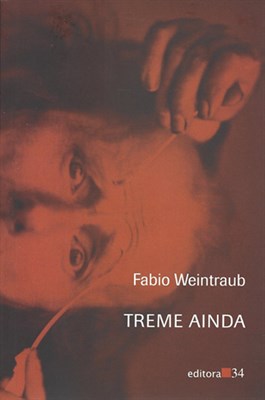II – MÁQUINA-DE-ESCREVER
B D G Z, Reminton.
Pra todas as cartas da gente.
Eco mecânico
De sentimentos rápidos batidos.
Pressa, muita pressa.
…….Duma feita surrupiaram a máquina-de-escrever de meu mano.
…….Isso também entra na poesia
…….Porque ele não tinha dinheiro pra comprar outra.
Igualdade maquinal,
Amor ódio tristeza…
E os sorrisos da ironia
Pra todas as cartas da gente…
Os malévolos e os presidentes da República
Escrevendo com a mesma letra…
……………..Igualdade
…………..Liberdade
………..Fraternité, point.
Unificação de todas as mãos…
Todos os amores
Começando por uns AA que se parecem…
O marido engana a mulher,
A mulher engana o marido,
Os amantes os filhos os namorados…
……...“Pêsames”
………“Situação difícil.
……….Querido amigo… (E os 50 mil-réis.)
…….…….…..…….Subscrevo-me
…….…….…….…….…….…….…….…….admʳº.
…….…….…….…….…….…….…….……..obgº.”
E a assinatura manuscrita.
Trique… Estrago!
É na letra O.
Privação de espantos
Pras almas especulares diante da vida!
Todas as ânsias perturbadas!
Não poder contar meu êxtase
Diante dos teus cabelos fogaréu!
A interjeição saiu com o ponto fora de lugar!
Minha comoção
Se esqueceu de bater o retrocesso.
Ficou um fio
Tal e qual uma lágrima que cai
E o ponto final depois da lágrima.
Porém não tive lágrimas, fiz “Oh!”
Diante dos teus cabellos fogaréu.
A máquina mentiu!
Sabes que sou muito alegre
E gosto de beijar teus olhos matinais.
Até quarta, heim,ll.
Bato dois LL minúsculos.
E a assinatura manuscrita.
(Mário de Andrade. In: Losango cáqui ou afetos militares de mistura com os porquês de eu saber alemão, 1924)
O movimento do poema é dinâmico, associando primeiramente o advento da máquina de escrever a uma espécie de perda de aura, não somente do poema — também do poema! — mas do próprio “ritual” da correspondência. “Eco mecânico/ De sentimentos rápidos batidos”. A ambivalência de “batidos”, embora eu não saiba se fora premeditado pelo autor — “batido” no sentido de “desusado” parece apropriação recente —, torna-se sugestivo aos ouvidos contemporâneos. No entanto, esta perda de aura — em sentido, digamos, benjaminiano — aponta para uma difusão mais democrática, pois que mais rápida e abrangente, das possibilidades de recepção e/ou produção dos objetos produzidos através da máquina:
(…)
Pra todas as cartas da gente…
Os malévolos e os presidentes da República
Escrevendo com a mesma letra…
……………..Igualdade
…………..Liberdade
………..Fraternité, point.
Unificação de todas as mãos…
(…)
Esta “unificação de todas as mãos”, no entanto, resulta em banalidades que, ainda assim, precisam da “assinatura manuscrita” para serem válidas. “A máquina mentiu”, afirma o poeta — depois de uma descrição meticulosa de um erro técnico que simula uma lágrima grafada na página —, exigindo a subordinação da máquina ao homem — a ênfase na “assinatura manuscrita”.
2.
A máquina de escrever ronda o imaginário de muitos poetas modernos por suas possibilidades técnicas que permitem pensar e produzir poesia de novas formas. Um livro como poetamenos (1953) de Augusto de Campos, embora prime pelo refinamento estilístico da fonte Futura, passou primeiramente pelo complicado processo da máquina de escrever com fitas coloridas — um fac-símile de “lygia fingers” datilografado pode ser visto na exposição REVER, em homenagem ao poeta, instalada no SESC Pompeia.
(Augusto de Campos. In: poetamentos, 1953)
Em outra ponta e por outros meios, Ana Cristina Cesar em seu Correspondência completa (1979) joga, entre outras coisas, com os vetores do biografismo/ hermetismo na invenção literária simulando, neste caso, uma carta: “Você não acha que a distância e a correspondência alimentam uma aura (um reflexo verde na lagoa no meio do bosque)?” (grifo meu). O termo aura, estou certo, não foi escolhido à toa pela poeta que, deste modo, dialoga criticamente com Benjamin — (…) estas considerações mereceriam uma análise mais apurada o que demandaria não apenas tempo, mas estudo.
De qualquer modo, o post-scriptum n. 2 desta “carta” de Ana C encaixa-se nas questões acima expostas, uma nova sensibilidade através do uso da máquina:
(…)
Quando reli a carta descobri alguns erros datilográficos, inclusive a falta do h no verbo chorar. Não corrigi para não perder um certo ar perfeito — repara a paginação gelomatic, agora que sou artista plástica.
(Ana Cristina Cesar. In: Correspondência completa, 1979)
Introjetar o h faltante em chorar significa sujar à caneta a perfeição plástica das letras batidas na máquina. No entanto, esta perfeição plástica gera um novo sentido: o verbo “corar”, completamente inteligível, que substitui o choro: “só posso dizer que c(h)orei um pouco de ser tudo verdade”. Como se o choro contido quisesse em primeiro momento manter-se oculto — mimetizado também pela perfeição plástica inabalável da carta datilografada.
Armando Freitas Filho, ainda, leva a imagem da máquina de escrever às alturas — sua obra reunida chama-se Máquina de escrever – poesia reunida e revista (2003). Na capa, a palavra “revista” está escrita em letra cursiva, como se o “pente fino furioso” que o poeta passa em sua obra fosse possível pelo retorno temporário ao lápis antes do “digitar sem dor, apagando/ absolutamente o erro, errar”. Mais ambivalente, a imagem da máquina de escrever também mereceria um estudo mais apurado na obra de Armando…
52
Máquina, descrever. A partir desta ordem
à mão, tento, nas suas teclas pretas
com l dedo só operante, dizer do que é feita
e do que me faz, há 40 anos: ferro, fera, fé
nas falanges que se extremam em hastes
cada qual com seu caráter, seu caractere
que imprime, vibrante, na fita entintada
as letras, o primeiro plano da palavra
que vai se lapidando na leitura até chegar
ao prisma, à refração, às vezes brusca –
alto contraste em preto e branco – outras tantas
lenta, em arco-íris, sem se ferir
mesmo martelando os tipos disparados
catando milho e algarismo, direto no miolo
do mecanismo, na entrelinha da madrugada:
Máquina d’Escrever, “Mariana”, “Manuela”
Remington, Lettera 22, Máquina Descrever.
(Armando Freitas Filho. In: Raro mar, 2006)